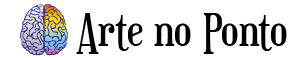Por Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano
Por Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano
Entre as atribuições profissionais de Cláudia estavam andar pelos vinhedos da Europa, degustar as comidas e analisar os hábitos gastronômicos da maior parte dos povos tanto do Ocidente quanto do Oriente.
Enquanto ficava na Europa, tudo ia bem, mas quando ia aos Estados Unidos, a despeito de sua formação privilegiada, ela se sentia como jamais se sentira na vida: discriminada.
O responsável pelo seu mal-estar era o cigarro. Em Nova Iorque só conseguia fumar nas ruas e mesmo assim tinha que enfrentar o olhar de desprezo de muita gente.
Que ironia! Pensar que, jovenzinha, no banheiro do colégio, ela passara muito mal tentando se acostumar com as náuseas e a tosse que as primeiras tragadas lhe traziam, na tentativa de aprender a fumar. Fumar era chique, era imprescindível. Na faculdade, posava no espelho segurando o cigarro entre os dedos, a mão apoiada no queixo, numa pose típica dos intelectuais da sua juventude…
E agora… Essa mesma sociedade que a pressionara para que fumasse, ordenava que parasse. Parar como?
Mesmo na Europa, onde o cigarro era muito mais tolerado do que na América, Cláudia fumava escondido. O que diriam seus anfitriões se soubessem que a jornalista especializada em gastronomia, grande provadora de vinhos finos e pratos especiais, passara a vida estragando seu olfato e seu paladar pelo consumo das drogas que compunham os cigarros industrializados?
Flávio também fumara muito, quando da sua militância esquerdista, mas no longo período que amargara na cadeia, mesmo depois das torturas horríveis que sofrera, tivera que se acostumar à ausência do cigarro e acabara por não voltar a fumar. Mas ela! Ela sofria.
A pressão social contra o cigarro, a proibição do fumo em diversos locais, contribuía para que ela diminuísse e muito o número de cigarros fumados de dia. Mas à noite, sozinha em casa ou nos quartos de hotel… Um atrás do outro.
Aos 51 anos começou a sentir os braços pesados, um dia, outro dia, e, de repente, acordou com uma incrível dor no peito, dificuldade para respirar, a nuca pesada como se alguém a quisesse estrangular. Era o infarto.
Levada às pressas para o hospital, sofreu uma angioplastia. Os médicos colocaram dois stents em suas artérias coronárias entupidas. Cigarro nunca mais, nicotina zero, foi a sentença dos médicos.
No dia seguinte, Cláudia na UTI semi-intensiva, ainda sem poder se movimentar e toda cheia de eletrodos, Antônia lhe disse com aquela calma desconcertante:
— Ainda bem que você já parou de fumar maconha há muito tempo.
Não pôde deixar de sorrir:
— Mãe! Como? Você sabia? …
— Ora, eu nunca fumei, mas sempre soube bem diferenciar os odores da maconha e do tabaco.
A juventude de Cláudia fora a juventude da marijuana, assim como a de Rodrigo, a da cocaína e a de Fabio, do ectasy. Ela abandonara a maconha, na década de 1980, ao perceber que, rica, respeitada e invejada, todas as manhãs acordava sentindo-se a pior das criaturas, às vezes até chorando.
— Maconha demais causa depressão – dissera um amigo.
Nunca mais puxou fumo.
— Se você conseguiu deixar a maconha – continuava Antônia – não deve ter muita dificuldade para deixar o cigarro.
— Maconha não vicia, mãe – respondeu ela – A nicotina é muito pior.
Um de seus primos era um famoso psiquiatra. Cláudia o procurou, ao deixar o hospital, alguns dias depois, e ele lhe receitou um antidepressivo que também mimetizava os efeitos cerebrais da nicotina. Três meses, e algumas recaídas, depois, ela se livrou do vício.
Suas viagens se tornaram menos angustiantes, seu trabalho se tornou mais preciso, assim que ela começou a voltar a sentir sabores e aromas dos quais mal se lembrava e sua pele ganhou um viço e um brilho que os mais caros tratamentos dermatológicos não tinham conseguido lhe proporcionar.
Fábio adorou. Detestava o cheiro do cigarro da mãe, odiava as paredes do apartamento amareladas pela nicotina.
Foi por essa época, quando comemorava a vitória de sua mãe sobre o cigarro, que lhe apareceu no espelho a dama do jazz, Billie Holiday.
Eleanor Fagan Gough era o verdadeiro nome dela. Naquele tempo ainda não era muito comum, mas ela nascera de pais adolescentes, sua mãe tinha treze e seu pai, quinze. Ela era um bebê quando o pai a abandonou para seguir uma banda de jazz. A música estava no sangue.
Nascida em 1915, negra e pobre, num país segregador como os Estados Unidos, Billie só sofreu.
Tinha dez anos quando foi estuprada pelo vizinho. Ele saiu livre e ela foi parar numa casa de correção para meninas sexualmente abusadas. Ficou dois anos lá e saiu direto para os prostíbulos, onde lavava banheiros e aprendia a profissão.
Aos quatorze, ela e a mãe vendiam o corpo em Nova Iorque.
Aos quinze, ameaçada de ir morar na rua, já que faltava dinheiro para o aluguel, entrou num bar do Harlem e se ofereceu como dançarina. Saiu empregada como cantora, porque o pianista se apiedara dela e perguntara-lhe se ela sabia cantar.
Billie, diferentemente de Fábio, crescera ouvindo o jazz e o blues de Bessie Smith e Louis Armstrong, eles foram sua escola. Por três anos Billie cantou de bar em bar, não fazendo muito dinheiro, o suficiente, porém, para que ela e a mãe sobrevivessem com o mínimo de dignidade.
Foi o crítico John Hammond que a colocou para cantar com a big band de Benny Goodman e gravar então seu primeiro disco. Ela estava com dezoito anos e Goodman, aos vinte e cinco, já era uma estrela, chamado de “o rei do swing”, “o patriarca da clarineta”, “o professor”.
O talento de Billie despontava. Ela foi uma das primeiras negras a cantar com uma banda de brancos. Cantou com as big bands de Artie Shaw, Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong.
Com Lester Young, em quarto anos, gravou mais de cinquenta canções. Ele, também oriundo de uma família musical, acabou sendo apelidado por Billie de “Pres”, o presidente do jazz, já que havia, um conde (County Basie), um rei do swing (Goodman) e um duque (Duke Ellington). Em troca, ele chamou Billie de Lady Day.
Fábio, porém, só começara a se interessar por jazz quando estava na faculdade. Antes, trancava-se no quarto com seus fones de ouvido gritando em rock, quando seus pais escutavam as canções dos Gerswhin, de Cole Porter, de Irvin Berlin, na voz dos grandes astros e estrelas que consagraram os sucessos destes e de outros compositores.
Quando descobriu a beleza do jazz, Fábio lamentou o tempo perdido. Continuou com seus ídolos roqueiros, tropicalistas, bossanovistas, mas já não conseguia gostar deles como antes. Jazz. Jazz. Jazz.
A figura de Lady Day, se formando no espelho, fez surgir um dos melhores sorrisos de sua vida. Incrível. Lá estava a grande diva! Enquanto a imagem ia se completando, Fábio ansiava por ouvir aquela voz sensual, simplesmente falando. Ele, é claro, só a ouvira cantando.
Lembrou-se do filme, Lady Sings The Blues, sobre a vida dela, com Diana
Ross no papel principal, que ele assistira recentemente na TV, um filme de 1972, produzido antes mesmo que ele nascesse. Diana Ross era bacana, mas não era Billie. Ele, só ele, graças ao milagre do Espelho de sua bisavó, iria desfrutar por alguns momentos da companhia da verdadeira Billie.
— Sempre fico contente quando vejo alguém que consegue se livrar do vício nas drogas. – disse ela.
Fábio olhou espantado:
— Você está falando da…
— Sim – respondeu Billie – estou falando de sua mãe. Ela se livrou do cigarro. No meu tempo, cigarro era considerado inofensivo, ninguém se dava conta que ele também era droga. E das pesadas. As drogas me mataram em 1959. Tive problemas cardíacos. Tive problemas hepáticos. Mas as drogas também me anestesiaram…
— Meu Deus, Billie! – exclamou Fábio – Você era rica, amada, famosa, badalada. Convivia com os maiores gênios da música do século XX. Era respeitada. Queria se anestesiar de que?
— Do passado – respondeu ela com simplicidade. — Das cicatrizes que nunca deixam de doer, de perturbar.
— Mas o passado morre, Billie.
— Nunca. Nunca morre. Ele faz parte de nós. Ele é que nos constrói. Eu fui amada por minha música, mas jamais pude me sentir amada. Eu era sempre a negra, a mulher negra, aquela que é menos. Menos porque é mulher. Muito menos porque é negra. Menos porque é mulher, negra e vagabunda, prostituta.
— Mas você até hoje, quase um século depois do seu nascimento, continua sendo a rainha. Billie você foi e é a rainha do jazz…
Ela sorriu, um sorriso amargo como o amargor que havia por trás de sua voz:
— Não espero de fato que você compreenda. Você é um menino rico, bem educado, privilegiado, com acesso a todas as maravilhas e confortos que a ciência e a tecnologia construíram no século XX e neste início do XXI. Nasceu desejado, para ser amado, enquanto eu, pobre de mim, nasci por acidente e no contexto do século XIX. Eu fui a ralé, a escória do mundo. Por mais famosa que pudesse me tornar, jamais deixei de ser o que eu fui, o que sou. Um ser sem valor.
Fábio quase gritou:
— Como sem valor? Você é a expressão de todos os cantos, de todos os pássaros, de todos os instrumentos. Sua voz é um instrumento musical. Você é a transposição melodiosa das mais belas combinações de palavras.
O que importa se, por causa da cor da sua pele, de sua origem humilde, você foi um dia desprezada? Foi e não deveria ter sido. Você é uma deusa.
Billie sorriu, um sorriso claro, que iluminou a superfície do espelho antes que ela desaparecesse.