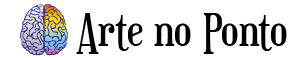Por Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano
Por Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano
Giovanni se orgulhava da sua arte. Costumava dizer tantas vezes que tinham sido os seus ancestrais venezianos a criar o primeiro espelho perfeito de que a humanidade tinha notícia, que os seus amigos decoraram até mesmo o ano de tal feito.
Segundo Giovanni, fora em 1291 que, pela primeira vez, uma placa de prata e estanho fora aplicada sob uma folha de vidro sem falhas e criara, afinal, o primeiro espelho. Mas o mestre escola do lugar o contestava, dizia que 300 anos antes de Cristo, os romanos já fabricavam espelhos perfeitos, afirmação essa que deixava Giovanni com os poucos cabelos, que lhe restavam, em pé.
Nada disso, protestava ele, nada disso, o primeiro espelho perfeito fora fabricado em Veneza, em 1291, e começava a contar uma história complicada sobre o envolvimento de seus distantes antepassados na longa trajetória dos artefatos de cristais e na manufatura dos espelhos que ele, orgulhoso, agora exportava para todo o mundo.
Giovanni tinha uma grande oficina em Veneza, onde criava os mais belos objetos de cristal e os seus famosos espelhos, com molduras invejáveis que saíam das mãos de seus carpinteiros (verdadeiros escultores, gritava ele) que passavam horas e horas a cortar, lixar e entalhar cuidadosamente as mais nobres madeiras.
Foi assim que surgiu o espelho dessa história.
Em 1832, mais de seiscentos anos depois do primeiro, o espelho em questão saiu da oficina de Giovanni para a casa de um rico comerciante, famoso por sua generosidade para com todos os tipos de artistas e, por isso, chamado de Mecenas de Veneza, Enrico Donizetti.
Era um espelho simples, com dois metros de altura por um metro de largura, retangular, atado a uma moldura de madeira nem tão nobre que, por sua vez, se prendia por dois parafusos às partes verticais de uma moldura maior apoiada em quatro pés, fazendo assim com que a folha de cristal se inclinasse para que uma pessoa contemplasse sua própria imagem em vários ângulos. Destinava-se tal artefato às casas de costura, às modistas, ou aos quartos de vestir das senhoras muito ricas, que poderiam, dessa forma, perceber que impressão causariam usando este ou aquele traje.
Na sofisticada morada dos Donizetti, o espelho passou a refletir muitas das ilustres personalidades que passavam por Veneza na segunda metade do século XIX, como, por exemplo, em 1851, Giuseppe Verdi ou George Sand, quando escreveu, em frente a ele, sua famosa carta à Alfred de Musset em 12 de maio de 1834.
Assim, o espelho ficou na sala íntima de Madame Donizetti por décadas até o destino resolver que o herdeiro de Enrico Donizetti, Vicenzo, se metesse em grandes trapalhadas comerciais e tivesse que, desesperado, abandonar a cidade, deixando para trás o glorioso passado de sua família, as amizades intelectuais, a vida de conforto e de alta posição na sociedade.
Na hora de acomodar, no meio da noite, os poucos pertences inestimáveis e o que restava de objetos de valor, nas gôndolas que levariam a família e seus móveis ao cais, a mulher de Vicenzo ameaçou fazer um escândalo se não levassem também o seu amado espelho Giovanni, do qual tanto sua sogra se orgulhara.
No ano de 1899, migrou a família para o Brasil e, no navio que os trouxe, veio o espelho, sempre sob o olhar vigilante da senhora Donizetti.
Aportaram, depois de uma viagem estafante, no Rio de Janeiro e, com o pouco ouro que lhe restava, Vicenzo alugou uma boa casa para instalar sua família e seus pertences e procurou reiniciar um pequeno comércio naquela cidade de bárbaros. Uma febre brava matou sua mulher logo nos primeiros meses depois da chegada da família. Vicenzo se viu só com dois filhos para criar e arranjou uma “preta velha” (como se dizia naquela época), que fora escrava, para fazer as vezes de governanta.
Poucos anos depois, Vicenzo, que tinha um tremendo talento para gastar além de suas posses, viu seu estabelecimento ter decretada a falência.
Entre os credores, estava o velho Antônio Mauadie, famoso mascate que possuía algumas carroças, que viajavam pelas precárias estradas do país, levando as mais ricas mercadorias para as cidades mais distantes e negociando-as com os prósperos próceres locais.
Ainda bem que minha mulher não está viva para ver o seu rico espelho desmontado, embalado e acondicionado numa dessas carroças – pensou Vicenzo quando o mascate lhe disse que seu destino eram as Minas Gerais.
Numa bela tarde de outono, a carroça adentrou os portões da suntuosa fazenda Soledade, reduto de José de Almeida, que fizera fortuna nos garimpos e era então um dos mais importantes cidadãos do município de Juiz de Fora.
José acabara de receber, em suas terras, parentes imigrantes, muito menos favorecidos do que ele próprio, vindos da Ilha da Madeira: uma de suas irmãs, que ele não via desde muito menino, e as quatro filhas dela. Um bando de mulheres desamparadas pela morte recente do cunhado de José, que se metera em confusões políticas e morrera assassinado.
Com o alvoroço que sempre causava a chegada da carroça (com suas sedas orientais, seus mimos vindos de terras impensáveis e seus reluzentes cristais), reuniram-se todos os membros da família a admirar as riquezas que os mascates traziam.
Foi então que a jovem Maria Júlia, uma das sobrinhas recém chegadas de José, encantou-se com o espelho veneziano de Giovanni. Era uma moça prendada, cujas primas apelidaram de “mãos de fada”, já que de seus dedos ágeis, brotavam os mais lindos vestidos, que ela cortava, sem medir, e costurava com uma habilidade e um bom gosto invejáveis.
Maria Júlia sonhava colocar a sua arte do corte e costura ao alcance dos ricos fazendeiros locais e, ao ver o espelho, montado ao lado do chafariz do jardim principal da casa da fazenda, ficou quase histérica. Além de lindo, era perfeito: refletia sem defeitos a imagem de seu corpo, sem distorcer. Era um sonho. Correu para o seu tio e implorou que ele o comprasse para ela, para fazer parte do atelier que pretendia montar na cidade.
José, cuja súbita riqueza o fizera também generoso, não só comprou o espelho como prometeu financiar o negócio de Maria Júlia, cedendo-lhe um imóvel que possuía no centro da cidade para que ela montasse uma pequena oficina de costura.
Foi assim que, em 1904, o espelho Giovanni foi parar num pequeno sobrado da cidade de Juiz de Fora.
José instalou Maria Júlia, sua mãe e suas três irmãs, no andar de cima da casa, onde mandou fazer uma bela cozinha e quebrou as paredes do andar de baixo, criando assim uma sala muito grande, bem mobiliada, onde passou a funcionar a oficina. Comprou ainda duas máquinas Singer, uma coleção de tesouras, muitos aviamentos e algumas peças de tecido, para que a rica freguesia de Maria Júlia pudesse escolher modelo e fazenda (como se chamavam então os tecidos) de seus trajes. Tudo veio das carroças dos turcos, menos as máquinas de costura, que José mandara buscar na capital do país, numa importadora.
O espelho Giovanni, que refletira a fina flor da intelectualidade europeia, logo passou a refletir as mais abastadas damas da sociedade local.
No começo, Maria Júlia fazia tudo: cortava, costurava, chuleava, pregava botões. Mas logo as irmãs foram aprendendo também o difícil ofício. Júlia era uma professora muito exigente e fazia as irmãs treinarem os pontos e os caseados em pequenos retalhos, os famosos “panos de amostra” até que o serviço fosse considerado, por ela, perfeito. Só então, depois de algumas longas semanas de treino, permitia que as moças começassem a dar acabamento nos vestidos das freguesas.
O talento de Júlia logo foi reconhecido e, a cada dia, vinham mulheres de lugares mais distantes, até mesmo da capital do estado, atraídas pela fama da costureira portuguesa que se instalara em Juiz de Fora.
Moças pobres começaram também a frequentar o atelier, procurando aprender a profissão e logo as duas máquinas eram pouco para atender a demanda. Júlia mandou buscar mais duas. E agora só cortava os vestidos e vigiava, com olhos mais afiados do que as tesouras, o trabalho da confecção.
Cada vestido exigia, no mínimo, que a freguesa voltasse ao atelier duas vezes para a primeira e para a última prova.
Assim, até o dono da hospedaria começou a ver simpatia olhos o trabalho de Júlia, pois este acabava fazendo com que sua casa recebesse ricas damas da capital mineira que vinham para a cidade apenas para vestir-se com Madame Júlia.
Um dia, a sobrinha do presidente das Minas Gerais, que fora à Juiz de Fora para que a costureira lhe renovasse o guarda-roupa de festa, disse a ela:
– A Madame está perdendo tempo nesse lugar pequeno. Deveria transferir-se para a capital federal ou mesmo para São Paulo. Lá, sim, estão damas com muito dinheiro e de bom gosto, que viajam frequentemente à Europa e sabem reconhecer um traje bem cortado.
A ideia plantou uma sementinha na mente de Júlia, e o pensamento foi crescendo. Poderia ir para São Paulo, vestir as esposas e as filhas dos ricos, viveria numa cidade maior, com mais oportunidades.
Um dia pegou o trem. Foi a São Paulo e procurou uma casa para alugar, sabendo que, nos primeiros tempos, teria que usar o dinheiro que economizara até que se firmasse com as primeiras clientes. Mas Júlia pretendia, inclusive, anunciar nos jornais que se estabelecera na cidade.
Para a tristeza das freguesas mineiras, Júlia mudou-se para a capital paulistana em abril de 1908. E com ela, além da mãe viúva e das irmãs e das máquinas de costura, veio também o espelho. E veio ainda, na bolsa, guardada como um tesouro, a carta da sobrinha do presidente das Minas Gerais recomendando o trabalho de Júlia a uma importante matriarca local.
Instalaram-se numa casinha numa travessa da Avenida Paulista. Logo os vestidos de Madame Júlia conquistavam as paulistanas dos arredores. E nos arredores estava então se instalando a fina elite de São Paulo.
Em 1891, Joaquim Eugênio de Lima inaugurara sua mais grandiosa obra na cidade, a própria Avenida Paulista, que pretendia ser um boulevard, inspirado nos europeus, abrigando as residências das ricas famílias da província. No começo o loteamento, em que o urbanista investira tanto dinheiro, parecera destinado ao fracasso. Mas, a partir de 1895, quando o rico industrial, Von Bullow, ergueu o primeiro casarão ali, muitas famílias ilustres o imitaram, como as de Francisco Matarazzo e Henrique Schaumann.
À medida que mansões iam se erguendo à beira do leito de pedras brancas da avenida, o ateliê de Júlia ia crescendo e o espelho, guardando a imagem das mais famosas damas da sociedade paulista e de suas filhas e noras.
Foi no verão de 1911 que Júlia conheceu um atraente dentista baiano, Artur Clemente de Souza, à cadeira de quem fora levada por um abcesso. Apaixonaram-se, paciente e dentista, e viveram um tórrido caso de amor.
O espelho viu a ansiedade e o medo nos olhos de Júlia, mas viu também o fogo da paixão.
No mesmo dia em que, naquele inverno, Júlia voltava do médico com a notícia de sua gravidez, seu amante era morto, em plena Rua Direita, por sua outra amante, que descobrira seu caso com Júlia.
Enciumada, a assassina abraçara o homem, quando o encontrara na rua, carregando uma faca que lhe enterrara no abdômen. O amante de Júlia sangrou, pelas mãos de sua outra amante, até morrer.
A notícia, naquele tempo em que os crimes ainda não eram uma banalidade, foi parar em todos os jornais. Ao lê-la, na manhã seguinte ao crime, Júlia desmaiou.
São Paulo, naquele começo do século XX, era uma cidade de 350 mil habitantes, 70 mil dos quais eram operários. A elite elegera o chamado Triângulo, formado pelas Ruas Direita, São Bento e XV de Novembro, o lugar mais chique da cidade. Lá estavam as melhores lojas, os melhores cafés, os bancos, as grandes livrarias, os mais conceituados escritórios. E fora ali, no triângulo, que a outra amante de seu amante acabara com os seus sonhos de amor e condenara o filho que ela trazia no ventre a nascer sem um pai.
Vivendo a euforia da paixão e a alegria da gravidez, Maria Júlia viera para casa na tarde anterior — na mesma hora em que ele morria — cantarolando, imaginando seu bebê a nascer numa bela casa, onde ela e o amante passariam a viver juntos, casados e felizes. Sim tudo iria mudar para melhor – sonhava ela.
Nesse estado de espírito é inimaginável a ideia de morte. O assassinato de seu amante seria a maior bofetada que ela levaria da vida, maior ainda do que o assassinato de seu próprio pai.
Num único tranco seus sonhos se transformariam em pesadelos. Era inconcebível uma mulher solteira, grávida. Isso afastaria suas distintas clientes. Ela iria à bancarrota.
Fingiu estar doente, para poder chorar a sua perda em paz, trancada no quarto. Uma semana depois emergiu de sua dor e cinco semanas depois embarcou num navio para Portugal, com a mãe, e durante os meses da viagem, Júlia apertava sua barriga de grávida dentro de cintas justíssimas. Quase não comia, para engordar o mínimo possível.
De volta a São Paulo, trabalhou como louca, cortando vestidos por dias e dias seguidos. Entregou-os às irmãs e às outras costureiras para acabamento e foi para Soledade. Explicou ao seu tio José de Almeida e à sua tia Geraldina, a história triste de sua gravidez. José e Geraldina compreenderam o drama da sobrinha, embora condenassem a sua aventura, e prometeram entregar a criança aos cuidados de uma família de imigrantes italianos que se instalara na fazenda.
Um mês depois nascia Antônia, sua filha.
Julia voltou para São Paulo e deixou o bebê na fazenda, aos cuidados dos italianos e de uma ama de leite.
Dedicou-se ainda mais ao trabalho. A dor da perda do amante somava-se à dor de ter que esconder de todos a sua filha.
Até que esse turbilhão de coisas se alastrasse pela sua vida, se Júlia não era exatamente de uma grande alegria, não era tampouco dada às tristezas. Tinha uma seriedade bem humorada, um orgulho de fazer sempre o que devia ser feito.
Órfã de pai, imigrara com a mãe e as irmãs deixando para trás a terra em que nascera, o universo em que crescera, as amizades, tudo.
Mas dera-se bem em sua nova vida. Era ainda muito moça e já tinha uma respeitada casa de moda em São Paulo, com freguesia entre as mais aristocráticas, e ricas, famílias da capital paulistana. Mas se, antes, isso lhe proporcionava uma alegria seca, agora nada parecia aplacar a dor que se instalara em seu peito e vivia, dia e noite, com ela. Por isso, e não por ambição, Maria Júlia atirou-se ao trabalho. Seu atelier cresceu ainda mais.
Certa tarde, um distinto e aristocrático senhor que acompanhara uma de suas filhas para as provas de seu vestido, no atelier, convidou Júlia para um almoço “estritamente de negócios” e lhe propôs sociedade: Ele a instalaria numa casa maior, talvez mesmo em plena Paulista, ou muito próximo, decoraria o novo atelier, investiria em novas máquinas de costura, ajudaria a divulgar a moda de Júlia entre as mais importantes famílias paulistanas e, a medida em que aumentassem as freguesas, ele providenciaria mais mão de obra e mais recursos. Dividiriam os lucros.
Assim o atelier de Júlia cresceu em sua nova casa da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, quase esquina da Paulista.
De modesta costureira de cidade do interior, Maria Júlia passara a ser uma das mais procuradas modistas de São Paulo. Começou a enriquecer.
Em 1914, mandou buscar a filha que apresentou a todos como uma afilhada que ela adotara, pois a menina teria perdido os pais. Ninguém desconfiou. Apenas sua mãe parecia reconhecer na garota os traços ancestrais e começou a pensar que Júlia enjoara demais naquela viagem que fizeram juntas a Portugal e que também parecera estar mais gorda, mais cheia e começou a imaginar…
Em 1915, a mãe de Júlia morreu. No leito de morte, porém, olhou fixamente para a filha e perguntou com voz fraca:
– Diga a verdade, a Antônia é de fato sua filha, não é?
Júlia deixou que as lágrimas lhe escorressem pela face, as lágrimas a duras penas e por tanto tempo reprimidas. Abraçaram-se e a velha senhora morreu nos braços da filha.
O velório foi realizado no sobrado da Joaquim Eugênio de Lima, no salão principal onde funcionavam a recepção e as provas de vestidos do atelier.
No andar de cima, estava instalada a residência de Júlia e suas irmãs. Colocaram o caixão e as quatro imensas velas bem defronte ao formoso espelho Giovanni.
Nas primeiras horas daquela noite de inverno, Júlia ficou muito ocupada, recebendo inúmeras pessoas que lá compareceram para prestar as últimas homenagens à sua progenitora.
Mas lá pelo meio da madrugada, as irmãs atarefadas na cozinha (muita coisa para lavar, depois de servir infindáveis licores e petiscos) e no andar de cima, tentando fazer com que a pequena Antônia, assustada com a morte da avó, afinal dormisse, Júlia se viu sozinha na sala, ela e a mãe morta, já meio esverdeada, no caixão aberto.
Havia um cheiro horrível no ar, mistura das flores e da cera das grandes velas, suor dormido das muitas pessoas que por lá haviam passado, o fumo dos cavalheiros…
Lá fora, neblina e muito frio. Mesmo assim, Júlia se arriscou a abrir a janela, tentando espantar os odores da morte. Uma golfada de ar gelado, mas puro, penetrou no salão. E um cheiro característico das noites na região da Avenida Paulista. (Muitos anos depois, transformada a cidade, o clima, os hábitos, com a invasão dos automóveis e da impureza dos ares, ainda assim, Júlia conseguiria identificar esse cheiro da noite paulistana).
Mas, naquele momento, sentindo com prazer o ar gelado invadir lhe a sala, como que a purificando, ela sentou-se bem de frente para o espelho que tanto amava. Estarei sonhando? Pensou, ao ver a imagem refletida no cristal. Não estava lá o caixão, não estava lá a mãe morta, não estava lá a imagem das velas… O que ela via, dentro do retângulo do espelho, era o retrato do mar. Alto mar. Ondas enormes, dia claro, o oceano revolto e de um verde-azul profundo. Chegou a sentir a maresia, o vento quente e salgado, no rosto. Fechou os olhos. Um segundo. Quando os abriu, tudo desaparecera. O imponente espelho Giovanni mostrava, refletida, a imagem do caixão, das velas, das flores, da sala…
A mente está a pregar-me peças, pensou Júlia, sentindo no corpo o cansaço e na alma, a tristeza da perda da mãe, aquela mulher sempre quieta, sempre firme, que se fora assim de repente, vítima de um mal súbito.
As horas passaram, veio o dia, o cortejo fúnebre, na manhã cinzenta, com aquela garoa fria e típica dos invernos paulistanos. Foi um enterro concorrido. Muitas das freguesas de Júlia estavam lá, com suas famílias. Até mesmo seus tios, que haviam viajado por toda a noite, tinham chegado da Soledade para acompanhar a cerimônia.
O tempo passou e Júlia não pensou mais na estranha visão do mar que o espelho lhe proporcionara naquela noite triste até que, meses depois, sua pequena Antônia, que brincava com suas bonecas na recepção do atelier, dissera de repente:
– Mãe, que anãozinho é esse que mora no espelho?
Júlia levantou os olhos da seda pura que estava cortando e, por um instante fugaz, teve a impressão de ver um velhinho, muito pequeno, dentro do espelho. Tinha barbas brancas e usava um gorro pontudo, como um chapéu de bruxa. Mas foi apenas por um instante. Largou o trabalho e ergueu a pequena Antônia nos braços:
– Você vê um anãozinho dentro do espelho? – perguntou à menina, carinhosamente.
– Ele está sempre lá, mamãe, e eu não consigo falar com ele!
– Como é ele?
– Tem barbas muito brancas, é bem pequenininho, usa um casaco verde, todo abotoado e um chapéu pontudo e vermelho.
– Vai ver que é um duende. – respondeu Júlia.
– O que é um duende, mamãe?
– Duendes são como as fadas, Toninha. São seres encantados que só aparecem para quem tem o coração puro como o seu. Mas é engraçado que apareçam no espelho, pois, geralmente, vivem nas matas, nas florestas.
– Mas dentro do espelho tem também uma floresta – constatou a menina.
E Júlia, subitamente, percebeu que a filha tinha razão. O espelho Giovanni refletia as muitas samambaias e avencas que, depois da morte da mãe, ela passara a cultivar junto às grandes janelas do atelier, exatamente em frente ao espelho.
Riu, descendo a menina de seu colo:
– Não ligue para ele, Toninha. Ele não faz mal a ninguém. Deixe agora a mamãe terminar de cortar esse vestido.
Antônia cresceu entre os panos, agulhas, ronronares das máquinas de costura e, desde cedo, começou a ensaiar pontos nos panos de amostra.
Aos 11 anos já cortava, com a mesma habilidade e segurança de Júlia, vestidos para as suas bonecas e passava a tarde toda, depois de chegar da escola, a sapear o trabalho das costureiras.
A mãe se dividia entre o orgulho pelo talento da filha e a decepção por vê-la seguir o seu mesmo destino. Embora fosse uma das mais importantes modistas da cidade e tivesse apenas pouco mais de 30 anos, já sentia nas costas as dores causadas por horas e horas sempre debruçada sobre os mais nobres tecidos, os dedos calejados pelo manuseio das tesouras e o coração ressecado por anos da mesma rotina, da mesma vida.
Suas irmãs foram, pouco a pouco, deixando a casa de Júlia. Duas delas casaram e se foram para cidades distantes. A mais velha decidira tornar-se freira e trancara-se na clausura.
Júlia vivia agora sozinha com a filha e empregava mais de quinze costureiras. Seu sócio era só sorrisos, o dinheiro corria solto e Júlia agradecia a Deus por poder proporcionar uma boa formação para a sua filha, que estudava num dos melhores colégios da capital paulista.
Embora a menina a chamasse de mãe, todos acreditavam que Antônia fosse uma filha adotiva, que a generosidade de Júlia trouxera de Minas. Ainda bem, pensava Júlia, pois se a garota fosse reconhecidamente uma bastarda jamais teria sido aceita no elegante colégio das freiras.
Mas o sucesso financeiro de Júlia não podia resolver-lhe a solidão.
Já se ia quase uma década e a imagem do amante assassinado ainda lhe doía no peito, como se a tremenda perda houvesse ocorrido ontem.
Levava uma vida monótona, rotineira, regrada. Aos domingos ia almoçar com Antônia no Trianon, um dos poucos passeios tolerados pela sociedade para uma mulher solitária. Frequentava a família do sócio, que a abrigara como se fosse ela própria uma parente, em almoços, aniversários, casamentos, batizados e velórios. Distraía-se com as confidências das freguesas, com suas idiossincrasias, suas futilidades de mulheres ricas.
Os livros eram seus maiores companheiros e ela aprendeu a ler em francês, língua que conhecera em aulas ministradas por uma famosa professora, que viera para o Brasil há alguns anos e vivia das lições que dava aos filhos da elite paulistana.
Às vezes ia ao teatro com alguém da família de seu sócio. Gostava das óperas. Mas dependia sempre da boa vontade dos outros, pois embora financeiramente fosse independente, a sociedade local não veria com bons olhos uma mulher desacompanhada a frequentar eventos culturais.
Correspondia-se, ainda, com a pouca família que lhe restava em Minas, na fazenda Soledade e com as irmãs, que moravam no interior do estado. Mas era uma correspondência morna, formal e que demorava meses para chegar ao seu destino e mais meses para que viesse alguma resposta.
Em 1922, na Semana de Arte Moderna, na saída do teatro, reparou naquele cavalheiro a olhar insistentemente para ela. Dias depois o viu, pela janela do atelier, parado do outro lado da rua, a olhar fixamente para dentro da casa dela. Ele abanou de leve a cabeça e seguiu seu caminho.
Chamava-se José de Almeida, coincidentemente o mesmo nome de seu tio, dono da Soledade, e era contador da Light, a companhia inglesa de energia elétrica, também responsável pelos bondes que cruzavam a cidade. Soube disso quando viu o seu retrato no jornal, uma semana depois de ter reparado nele no teatro.
Alguns dias mais tarde, para a sua surpresa, o viu entrando, braços dados com uma moça elegante, em seu atelier. Apresentou-se a ela e apresentou também sua irmã, Vera, que desejava um vestido de baile.
Júlia, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que o coração batia mais forte. Alguma coisa naquele jovem fazia com que ela quisesse, de novo, experimentar o amor.
Naquela noite, depois que Antônia se recolhera ao quarto, desceu ao atelier para buscar um resto da presença dele. Serviu-se de um licor e sentou-se na poltrona que ficava defronte ao espelho. O salão estava na penumbra, iluminado apenas pelo elegante abajur de canto.
Júlia viu, de repente, surgir a imagem de uma dama dentro do espelho. A mulher, vestida com trajes do final do século anterior, sorria e parecia querer dizer alguma coisa.
Com os ouvidos da alma, Júlia ouviu:
– Finalmente José a encontrou!
E a visão desapareceu.
Quem seria aquela mulher? Parecera à Júlia estranhamente familiar. Mas percebia, pelas roupas da figura, que ela não pertencia à sua época, e sim a algum lugar do passado.
Júlia pensou nas três vezes que tivera visões no espelho. A primeira fora apenas o mar, o alto mar. A segunda, aquele pequeno duende que sua filha também vira. E, agora, essa mulher. Apertou os olhos e concentrou-se na imagem do espelho que refletia, como sempre, as plantas, os móveis, a visão de sua sala e dela própria.
Que milagre era aquele que acontecia, às vezes, no espelho? Por alguma estranha magia guardaria o cristal a memória das milhões e milhões de imagens que já refletira? Procurou concentrar-se nessa ideia e fixou o olhar no cristal. Nada.
Mas, de repente, pensou ver um vulto, como uma sombra.
Soube, com uma clareza surpreendente, que aquele espelho guardava, para sempre, as imagens que, um dia, refletira e percebeu, que mais dia menos dia, haveria de encontrar a chave, a forma de acessar aquela misteriosa caixa de lembranças.
Muitos e muitos anos depois, quando Maria Júlia, já com mais de 80 anos, vira-se separada de seu precioso espelho, constatou, com tristeza que, afinal, jamais descobrira como controlar as visões que este lhe mostrara por décadas e décadas.